Professores ou Proletários? A Escola como fábrica
Publicado em Passa Palavra, 13 de abril de 2009
Este texto é o resumo de uma formação e debate com militantes sindicais de base da APEOESP, ocorrida em novembro de 2008. Discute a proletarização da profissão docente, o papel da escola dentro da cadeia de produção capitalista, a fragmentação do pessoal docente e a consciência que os professores tem de si próprios. Por Otto João Leite
“Educação não é mercadoria”. “Reformas neoliberais estão nos atacando”. “Querem avaliar nosso desempenho”. Tais afirmações, que descrevem nossa situação atual, precisam ser analisadas em sua essência comum, para que possamos entender a nossa situação e lutar.
 As manifestações artísticas possuem o dom de expressar pela estética o que as teorias consomem grandes volumes para demonstrar. O filme The Wall (1982), produzido pelo Pink Floyd, retrata em uma parte a cena duma escola, como uma produção em série de alunos-mercadorias homogêneos, que enfim, desabam da esteira da linha de produção dentro duma imensa máquina de moer carne. Mas os alunos decidem no final se revoltar e incendeiam a escola. A arte muitas vezes antecipa fenômenos sociais reais.
As manifestações artísticas possuem o dom de expressar pela estética o que as teorias consomem grandes volumes para demonstrar. O filme The Wall (1982), produzido pelo Pink Floyd, retrata em uma parte a cena duma escola, como uma produção em série de alunos-mercadorias homogêneos, que enfim, desabam da esteira da linha de produção dentro duma imensa máquina de moer carne. Mas os alunos decidem no final se revoltar e incendeiam a escola. A arte muitas vezes antecipa fenômenos sociais reais.
Marx, há 140 anos, em sua obra principal, O Capital, analisou o funcionamento da sociedade capitalista em suas estruturas e mecanismos. Sua descoberta fundamental foi a de que vivemos em uma sociedade cuja essência é a mercadoria, onde tudo se torna mercadoria, a começar pelas coisas fundamentais da vida – a terra, os meios de produção (instrumentos de trabalho) e a própria força de trabalho do homem (o próprio indivíduo vira mercadoria, um “proletário”). O capitalismo é um processo de mercantilização, de transformação de tudo em mercadoria. Essa mercantilização significa a acumulação de Capital e a proletarização das pessoas.
Aí entra a segunda descoberta de Marx. De onde vem o Capital? O Capital é uma acumulação de dinheiro com um fim em si mesmo, onde tanto dinheiro se investe para produzir mercadorias e estas se trocam por mais dinheiro (D – M – D’), num processo sempre ampliado e descontrolado, de profunda irracionalidade (e consequências destrutivas). Marx descobriu que o valor das mercadorias é determinado socialmente pelo tempo de trabalho em média necessário à produção das mesmas, em toda a sociedade. Essa “lei do valor”, que não podemos ver, mas que existe e domina a sociedade como uma lei da gravidade (embora seja criação dos homens e não seja natural, é uma força inconsciente), é o regulador das altas e baixas dos preços, da produção, da troca, do consumo, da distribuição dos bens e dos ciclos de expansão e crise econômica. Desaparece, assim, todo o mistério do “mercado”, do “capital” e de suas crises, que se apresentam como seres vivos enfeitiçados, mas são na verdade produto de relações sociais entre homens.
 Se o valor é o tempo de trabalho, só o trabalho humano cria valor novo. Marx descobriu que todo lucro, renda e juros são originados do trabalho humano na produção de bens e serviços como mercadorias (como bens produzidos para a troca, e não para o uso). Como os trabalhadores são despossuídos de meios de produção (local de trabalho e instrumentos de trabalho são propriedade privada), são obrigados a vender sua força de trabalho como mercadoria para as empresas, em troca de salário para sobrevivência. Ocorre que, dessa forma, os trabalhadores não têm controle nenhum sobre os meios de produção nem sobre seu trabalho, e assim são coagidos a produzir um valor maior do que recebem como salário. Isso Marx chamou de mais-valia (mais-valor), que são as horas de trabalho não-pagas (exploradas) que o capitalista extrai do trabalhador. Daí surge o Capital, sua expansão, sua acumulação e suas crises. E a luta de classes, que é a luta dos trabalhadores pelo controle do tempo, das condições de trabalho e do próprio trabalho, para reduzir ou neutralizar a exploração. O capital é, assim, não uma quantidade de dinheiro, mas uma relação social entre homens, movida através da exploração e do conflito de classes.
Se o valor é o tempo de trabalho, só o trabalho humano cria valor novo. Marx descobriu que todo lucro, renda e juros são originados do trabalho humano na produção de bens e serviços como mercadorias (como bens produzidos para a troca, e não para o uso). Como os trabalhadores são despossuídos de meios de produção (local de trabalho e instrumentos de trabalho são propriedade privada), são obrigados a vender sua força de trabalho como mercadoria para as empresas, em troca de salário para sobrevivência. Ocorre que, dessa forma, os trabalhadores não têm controle nenhum sobre os meios de produção nem sobre seu trabalho, e assim são coagidos a produzir um valor maior do que recebem como salário. Isso Marx chamou de mais-valia (mais-valor), que são as horas de trabalho não-pagas (exploradas) que o capitalista extrai do trabalhador. Daí surge o Capital, sua expansão, sua acumulação e suas crises. E a luta de classes, que é a luta dos trabalhadores pelo controle do tempo, das condições de trabalho e do próprio trabalho, para reduzir ou neutralizar a exploração. O capital é, assim, não uma quantidade de dinheiro, mas uma relação social entre homens, movida através da exploração e do conflito de classes.
Admitindo isso, logo descobrimos que nós, professores, somos trabalhadores, e trabalhadores que produzem uma mercadoria muito especial, que é o coração do capitalismo, pois é a única que tem a propriedade de criar valor (mais-valia): a força de trabalho. Somos trabalhadores que produzem trabalhadores. O Capital soube incorporar a educação à sua lógica, de forma a criar sistemas de ensino que funcionam como empresas produtoras de trabalhadores em série, para atender às demandas de mão-de-obra do mercado para a acumulação de Capital.
 O professor exerce esse trabalho, incutindo nos alunos as duas características básicas da força de trabalho: a disciplina e as qualificações. Como o processo capitalista de trabalho é um processo de exploração, ele exige uma dose igual de opressão sobre o proletário empregado como “mercadoria viva”. A escola entra como uma instituição disciplinar e repressiva na medida em que interioriza no aluno, desde criança, a obediência a hierarquias, horários, controles de presença, notas e o desempenho de tarefas pré-determinadas, quantificadas, etc. E depois, atua como qualificadora, na medida em que habilita o aluno, como futuro trabalhador, a exercer trabalho mais simples ou mais complexo (o aluno aprendendo mais ou menos habilidades). Sendo assim, o trabalhador mais qualificado exerce trabalho mais complexo e produz muito mais valor (mais-valia) do que o trabalhador menos qualificado. Dessa maneira, o sistema de ensino vira um espelho das exigências do mercado de trabalho. Como este possui, cada vez mais hoje, uma hierarquia onde uma minoria cada vez mais reduzida de trabalhadores exerce trabalho produtivo qualificado (e por conseqüência bem remunerado e com direitos), e uma maioria composta de trabalhadores precarizados, terceirizados e mal remunerados (de menor qualificação), ou mesmo desempregados, o sistema de ensino passa a refletir essa hierarquia. As universidades e as escolas técnicas formam o primeiro grupo, mais qualificado e restrito, e o ensino público de massas forma o segundo grupo, dos precarizados e do exército de reserva (segue daí que quanto mais se expande o número de pessoas com diploma, a oferta de força de trabalho cresce em relação à demanda e os salários se tornam mais baixos). A deterioração das condições de trabalho da maioria da população se reflete na deterioração das condições da escola pública. A tão alardeada “educação universal” ou o discurso da educação para todos, que os governos defendem, em nenhum momento diz que essa educação deva ser de nível igual para todos.
O professor exerce esse trabalho, incutindo nos alunos as duas características básicas da força de trabalho: a disciplina e as qualificações. Como o processo capitalista de trabalho é um processo de exploração, ele exige uma dose igual de opressão sobre o proletário empregado como “mercadoria viva”. A escola entra como uma instituição disciplinar e repressiva na medida em que interioriza no aluno, desde criança, a obediência a hierarquias, horários, controles de presença, notas e o desempenho de tarefas pré-determinadas, quantificadas, etc. E depois, atua como qualificadora, na medida em que habilita o aluno, como futuro trabalhador, a exercer trabalho mais simples ou mais complexo (o aluno aprendendo mais ou menos habilidades). Sendo assim, o trabalhador mais qualificado exerce trabalho mais complexo e produz muito mais valor (mais-valia) do que o trabalhador menos qualificado. Dessa maneira, o sistema de ensino vira um espelho das exigências do mercado de trabalho. Como este possui, cada vez mais hoje, uma hierarquia onde uma minoria cada vez mais reduzida de trabalhadores exerce trabalho produtivo qualificado (e por conseqüência bem remunerado e com direitos), e uma maioria composta de trabalhadores precarizados, terceirizados e mal remunerados (de menor qualificação), ou mesmo desempregados, o sistema de ensino passa a refletir essa hierarquia. As universidades e as escolas técnicas formam o primeiro grupo, mais qualificado e restrito, e o ensino público de massas forma o segundo grupo, dos precarizados e do exército de reserva (segue daí que quanto mais se expande o número de pessoas com diploma, a oferta de força de trabalho cresce em relação à demanda e os salários se tornam mais baixos). A deterioração das condições de trabalho da maioria da população se reflete na deterioração das condições da escola pública. A tão alardeada “educação universal” ou o discurso da educação para todos, que os governos defendem, em nenhum momento diz que essa educação deva ser de nível igual para todos.
Como podemos ver, nós professores das escolas públicas somos, na verdade, trabalhadores produtivos (proletários). Embora juridicamente nosso empregador seja o Estado, na medida em que produzimos trabalhadores (o “capital humano”), estamos inseridos na cadeia de produção das empresas que os empregam (telemarketing, indústrias, supermercados, etc); e nosso trabalho é produtor de mais-valia, uma vez que é organizado segundo as relações de trabalho e a lógica de empresa. Isso explica também porque cada vez mais é aplicada na escola a lógica de empresa em sua organização interna. Não é o estatuto jurídico que determina se há ou não exploração ou geração de valor, mas o lugar ocupado no processo de produção e a forma de organização do trabalho. Ou seja, o professor da escola pública também é explorado, como o da escola privada (embora na escola privada esta exploração seja mais intensa e com menos proteção trabalhista). O Estado (no sentido de estado restrito, nacional) não se apresenta como uma esfera externa à valorização do capital, mas como um aparelho que faz parte dela, é um momento dela, e está inserido nos ciclos de produção e reprodução do valor.
 As escolas são cada vez mais invadidas pela lógica de produção de mercadorias, e nosso trabalho é organizado como na indústria. Cada vez mais as tarefas são padronizadas rigidamente e nosso trabalho é medido e avaliado quantitativamente. A escola está sendo “taylorizada” (taylorismo é o sistema tradicional de gestão de indústria, extremamente opressivo, do qual o “toyotismo” é só um derivado), e é invadida por um surto quantitativista, onde a última panacéia é a “avaliação de desempenho” e a “meritocracia” (antes predominava uma organização burocrática de cunho fayloista [baseado na administração segundo Henri Fayol], mas o aspecto quantitativo do taylorismo tem sido reforçado). Os diretores são transformados em gestores e tem um poder repressivo de controle reforçado. Cada vez mais somos realmente operários. Nossas tarefas são padronizadas como numa indústria e somos despojados de qualquer controle sobre nossas condições de trabalho (a padronização de currículos e materiais nada mais é do que isso, o sistema Taylor aplicado na educação). O aumento da pressão por disciplina e resultados dentro duma escola significa o mesmo que aumentar a velocidade de uma linha de montagem. A opressão das condições de trabalho cresce tanto que os professores desencadeiam uma série de mecanismos defensivos para não serem destruídos fisicamente – faltas (absenteísmo), licenças médicas, trabalhar mais devagar, “macetes”, etc. Tal processo é idêntico à resistência generalizada que ocorre dentro de fábricas, onde os operários espontaneamente derrubam a intensidade e velocidade da produção como forma de resistência à exploração e intensificação do trabalho. Mas este não é um processo consciente (por enquanto), são formas de resistência individuais e passivas (que passaram a predominar como reação defensiva após o desmantelamento do movimento sindical docente no Estado de São Paulo, na greve de 2000; e a atual revolução tecnocrática aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é também uma resposta a essa resistência passiva, uma tentativa de reestruturação da educação, que inclusive funciona como laboratório do Banco Mundial, para sua implementação mais ampla).
As escolas são cada vez mais invadidas pela lógica de produção de mercadorias, e nosso trabalho é organizado como na indústria. Cada vez mais as tarefas são padronizadas rigidamente e nosso trabalho é medido e avaliado quantitativamente. A escola está sendo “taylorizada” (taylorismo é o sistema tradicional de gestão de indústria, extremamente opressivo, do qual o “toyotismo” é só um derivado), e é invadida por um surto quantitativista, onde a última panacéia é a “avaliação de desempenho” e a “meritocracia” (antes predominava uma organização burocrática de cunho fayloista [baseado na administração segundo Henri Fayol], mas o aspecto quantitativo do taylorismo tem sido reforçado). Os diretores são transformados em gestores e tem um poder repressivo de controle reforçado. Cada vez mais somos realmente operários. Nossas tarefas são padronizadas como numa indústria e somos despojados de qualquer controle sobre nossas condições de trabalho (a padronização de currículos e materiais nada mais é do que isso, o sistema Taylor aplicado na educação). O aumento da pressão por disciplina e resultados dentro duma escola significa o mesmo que aumentar a velocidade de uma linha de montagem. A opressão das condições de trabalho cresce tanto que os professores desencadeiam uma série de mecanismos defensivos para não serem destruídos fisicamente – faltas (absenteísmo), licenças médicas, trabalhar mais devagar, “macetes”, etc. Tal processo é idêntico à resistência generalizada que ocorre dentro de fábricas, onde os operários espontaneamente derrubam a intensidade e velocidade da produção como forma de resistência à exploração e intensificação do trabalho. Mas este não é um processo consciente (por enquanto), são formas de resistência individuais e passivas (que passaram a predominar como reação defensiva após o desmantelamento do movimento sindical docente no Estado de São Paulo, na greve de 2000; e a atual revolução tecnocrática aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é também uma resposta a essa resistência passiva, uma tentativa de reestruturação da educação, que inclusive funciona como laboratório do Banco Mundial, para sua implementação mais ampla).
 Na medida em que trabalhamos com um setor da população (alunos e suas famílias) cada vez mais sujeito ao trabalho precarizado ou ao desemprego, a escola pública assume cada vez mais uma função meramente disciplinar e repressiva (função de controle social sobre os “não-rentáveis”). Os empregos que recebe a maioria de nossos alunos são empregos de baixa qualificação – onde se exige um perfil de trabalhador muitas vezes analfabeto funcional (por exemplo, supermercados, cadeias de lanchonetes). Não é de surpreender o crescimento do analfabetismo funcional, nem tampouco é nossa culpa. Dentro dessas condições opressivas, de escola fabril-carcerária, os alunos reagem com um surto espontâneo de indisciplina – eles percebem, inconscientemente, o não-futuro que o mercado lhes reserva, e passam a se “auto-sabotar” enquanto mercadorias em produção, se auto-imolando. Atacam as estruturas disciplinares e repressivas da escola, e percebem que o mercado de trabalho não vai lhes dar a inserção social que a escola lhes promete ideologicamente (existem outros fatores que causam a indisciplina, como a desintegração familiar, e o deslocamento de atividades formativas para o lazer eletrônico, mas as relações de trabalho são o fator de peso). Somos cada vez mais recrutados para gerir a falência do sistema de ensino gerada pela falência do mercado de trabalho.
Na medida em que trabalhamos com um setor da população (alunos e suas famílias) cada vez mais sujeito ao trabalho precarizado ou ao desemprego, a escola pública assume cada vez mais uma função meramente disciplinar e repressiva (função de controle social sobre os “não-rentáveis”). Os empregos que recebe a maioria de nossos alunos são empregos de baixa qualificação – onde se exige um perfil de trabalhador muitas vezes analfabeto funcional (por exemplo, supermercados, cadeias de lanchonetes). Não é de surpreender o crescimento do analfabetismo funcional, nem tampouco é nossa culpa. Dentro dessas condições opressivas, de escola fabril-carcerária, os alunos reagem com um surto espontâneo de indisciplina – eles percebem, inconscientemente, o não-futuro que o mercado lhes reserva, e passam a se “auto-sabotar” enquanto mercadorias em produção, se auto-imolando. Atacam as estruturas disciplinares e repressivas da escola, e percebem que o mercado de trabalho não vai lhes dar a inserção social que a escola lhes promete ideologicamente (existem outros fatores que causam a indisciplina, como a desintegração familiar, e o deslocamento de atividades formativas para o lazer eletrônico, mas as relações de trabalho são o fator de peso). Somos cada vez mais recrutados para gerir a falência do sistema de ensino gerada pela falência do mercado de trabalho.
Dentro desse âmbito, nós professores cada vez mais ficamos “espremidos”, entre de um lado a revolta dos estudantes e de outro o Estado gerencial, que trata a escola como empresa e impõe cada vez mais a lógica de produção de mercadorias, quantitativa e fabril, ao nosso trabalho.
De uma maneira geral, temos uma dificuldade muito grande em nossas mobilizações, porque a categoria docente (no Brasil e especialmente no Estado de São Paulo) está fortemente desunida e fragmentada, sem uma identidade coletiva (e essa passividade é a grande causa do enfraquecimento e burocratização dos sindicatos). Gostaria aqui de analisar um dos fatores principais disto – a falta de consciência de nossa própria condição social. Como acima analisamos, nós professores somos trabalhadores inseridos no circuito de produção capitalista, e produtores de mercadorias, ou seja – proletários que produzem valor. Mas entretanto, nossa categoria se enxerga como “classe média”, devido a ter um certo consumo de bens sustentado no sistema de crédito e endividamento. A categoria “classe média”, na verdade, é muito mais uma invenção jornalística do que propriamente um ser social real. Se considerarmos classes sociais apenas pela análise superficial por nível de consumo, então temos classes “A, B, C, D, etc”. Mas se procedemos a uma análise estrutural como acima fizemos (pela posição que os indivíduos ocupam no processo de produção), percebemos que a sociedade é rigidamente dividida em dois campos: capitalistas (burguesia e gestores) e trabalhadores. E nós ocupamos o segundo campo, como trabalhadores que produzem trabalhadores. Portanto, não somos “classe média” nem em sonho, embora a mentalidade predominante na categoria docente seja essa.
Com tal percepção de nossa posição no processo de produção, podemos entender muitas coisas – porque cada vez mais nosso trabalho é submetido a uma ditadura da produtividade, porque a opressão no local de trabalho cresce, porque nossos salários são achatados, porque enfrentamos a revolta dos estudantes. E a partir dessa percepção, podemos então fazer as opções: é isso que queremos? Concordamos com essa lógica de empresa? Como mudar as regras do jogo? É possível parar essa engrenagem?
 Torna-se necessário pensar estrategicamente nossa posição no processo, para que possamos combinar nossas lutas com lutas sociais de outros setores – por exemplo, ganhando a solidariedade dos alunos e da comunidade escolar, rompendo o corporativismo – só assim nossas reivindicações ganharão algum apoio na sociedade. Entretanto, cabe aqui relatar um caso. Quando o movimento dos trabalhadores sem-teto fez uma das maiores ocupações de sua história (a Ocupação João Cândido), a escola vizinha do terreno ocupado foi fechada por alguns dias por “medo dos sem-teto”. Estes, na ocupação, montaram várias cozinhas comunitárias e organizações comunitárias e solidárias de apoio mútuo. O engraçado é que ninguém pensava em fechar a escola antes da ocupação, quando o terreno era controlado por traficantes e assaltantes. Outra vez, em manifestação de professores (na luta contra o Fundo de Pensão SP-PREV, em 2007), os sem-teto vieram marchar em apoio aos professores, mas muitos professores se afastaram da manifestação horrorizados com isso, demonstrando um sentimento de nojo ou ranço classista. Talvez porque se enxerguem ainda como “classe média”, e ainda não perceberam que ali, no movimento popular, estão justamente nossos alunos e suas famílias, futuros trabalhadores que nós produzimos cotidianamente, cada vez mais precarizados e desempregados pela chamada “lei geral da acumulação capitalista” (Marx). É essa a grande contradição de boa parte dos docentes das escola públicas de São Paulo: lecionam para os pobres e em condições proletarizadas, mas possuem uma mentalidade e ideologia anti-pobre. É comum encontrar muitos que defendem a implementação de grades, câmeras e a repressão aos estudantes nas escolas; também muitos defendem idéias conservadoras e até fascistóides, como o endurecimento do Estado sobre os pobres nas favelas, a repressão aos movimentos sociais, detestam o MST, defendem pena de morte, redução da idade penal, e não é raro encontrar alguns que ainda defendam a ditadura militar ou sejam preconceituosos com alunos homossexuais. No final, esta mentalidade é uma construção midiática e de uma situação social de consumo artificial e de ideologia da ascensão social; revela um setor social que está se proletarizando, mas ainda não quer assumir, então adota os valores dominantes e um discurso ressentido como reação. Mas justamente a representação espetaculosa como “classe média” se constrói encima das contradições reais reprimidas e como negação ilusória da miséria da vida cotidiana. Os próprios professores efetivos olham os temporários de cima para baixo e muitas vezes não se misturam (e o mesmo aos “eventuais”). A mesma clivagem ocorre, de forma mais grave, em relação a funcionários de escola (que possuem na maioria das escolas sala separada da dos professores, ganham salários mais baixos e são submetidos a contratos precários), e ainda mais forte em relação a alunos e comunidade escolar. Mesmo quando em uma ou outra escola, a comunidade consegue se mobilizar e retirar as grades, estas persistem no cérebro dos docentes e gestores escolares. Parece reinar nas escolas a mesma mentalidade conservadora das senhoras de colar de bolas e cabelos de panetone que povoam os gabinetes dos departamentos de educação e diretorias de ensino.
Torna-se necessário pensar estrategicamente nossa posição no processo, para que possamos combinar nossas lutas com lutas sociais de outros setores – por exemplo, ganhando a solidariedade dos alunos e da comunidade escolar, rompendo o corporativismo – só assim nossas reivindicações ganharão algum apoio na sociedade. Entretanto, cabe aqui relatar um caso. Quando o movimento dos trabalhadores sem-teto fez uma das maiores ocupações de sua história (a Ocupação João Cândido), a escola vizinha do terreno ocupado foi fechada por alguns dias por “medo dos sem-teto”. Estes, na ocupação, montaram várias cozinhas comunitárias e organizações comunitárias e solidárias de apoio mútuo. O engraçado é que ninguém pensava em fechar a escola antes da ocupação, quando o terreno era controlado por traficantes e assaltantes. Outra vez, em manifestação de professores (na luta contra o Fundo de Pensão SP-PREV, em 2007), os sem-teto vieram marchar em apoio aos professores, mas muitos professores se afastaram da manifestação horrorizados com isso, demonstrando um sentimento de nojo ou ranço classista. Talvez porque se enxerguem ainda como “classe média”, e ainda não perceberam que ali, no movimento popular, estão justamente nossos alunos e suas famílias, futuros trabalhadores que nós produzimos cotidianamente, cada vez mais precarizados e desempregados pela chamada “lei geral da acumulação capitalista” (Marx). É essa a grande contradição de boa parte dos docentes das escola públicas de São Paulo: lecionam para os pobres e em condições proletarizadas, mas possuem uma mentalidade e ideologia anti-pobre. É comum encontrar muitos que defendem a implementação de grades, câmeras e a repressão aos estudantes nas escolas; também muitos defendem idéias conservadoras e até fascistóides, como o endurecimento do Estado sobre os pobres nas favelas, a repressão aos movimentos sociais, detestam o MST, defendem pena de morte, redução da idade penal, e não é raro encontrar alguns que ainda defendam a ditadura militar ou sejam preconceituosos com alunos homossexuais. No final, esta mentalidade é uma construção midiática e de uma situação social de consumo artificial e de ideologia da ascensão social; revela um setor social que está se proletarizando, mas ainda não quer assumir, então adota os valores dominantes e um discurso ressentido como reação. Mas justamente a representação espetaculosa como “classe média” se constrói encima das contradições reais reprimidas e como negação ilusória da miséria da vida cotidiana. Os próprios professores efetivos olham os temporários de cima para baixo e muitas vezes não se misturam (e o mesmo aos “eventuais”). A mesma clivagem ocorre, de forma mais grave, em relação a funcionários de escola (que possuem na maioria das escolas sala separada da dos professores, ganham salários mais baixos e são submetidos a contratos precários), e ainda mais forte em relação a alunos e comunidade escolar. Mesmo quando em uma ou outra escola, a comunidade consegue se mobilizar e retirar as grades, estas persistem no cérebro dos docentes e gestores escolares. Parece reinar nas escolas a mesma mentalidade conservadora das senhoras de colar de bolas e cabelos de panetone que povoam os gabinetes dos departamentos de educação e diretorias de ensino.
Nas greves, há pouca adesão: a maioria não adere, pois estão endividados, ou porque tem contas a pagar, além de uma fragmentação e desunião do pessoal docente. Entretanto, a maioria procura os sindicatos todos os dias (APEOESP e CPP), para resolver problemas individuais com advogado (como bônus, licença-prêmio, sexta-parte, qüinqüênios, convênios). Acabam por enxergar o sindicato como empresa prestadora de serviços e não como ferramenta de lutas (muitos dizem: “Eu pago a APEOESP para lutar por mim”). E o sindicato reflete esta passividade da base, funcionando de fato como escritório assistencialista na maior parte do tempo (salvo em algumas subsedes e grupos mais combativos que fazem oposição a essa política). Cabe lembrar que muitos professores, embora troquem de carros novos sempre (e o fazem através de dívidas e financiamentos astronômicos), não possuem casa própria e pagam aluguel, e sonham com um apartamento num programa de habitação. Ou seja, o status de classe média é altamente ilusório.
 Um caminho crucial para termos êxito em nossas lutas seria, primeiro, assumirmos nossa condição social e que a categoria docente já está proletarizada. A partir daí, enxergando essa condição social de sermos trabalhadores, podemos compreender a condição comum que temos socialmente com outros setores, como nossos alunos e suas comunidades, que também são trabalhadores (precarizados). Também podemos, assim, compreender que os ataques que estamos sofrendo por parte do Estado são os mesmos que toda a classe trabalhadora sofre internacionalmente sob as novas condições de crise capitalista, que desencadeia uma epidemia de cortes de gastos tanto nas empresas como no Estado (isto é a raiz do neoliberalismo). Compreendendo isso, podemos desenvolver uma solidariedade comum e lutas comuns com outros setores, bem como buscar estratégias cotidianas para transformar as formas de resistência individuais e passivas do professorado em formas de luta coletivas e ativas contra a lógica de empresa e a mercantilização da educação. Peça-chave nisto é a construção de relações de luta coletivistas e solidárias nos locais de trabalho, para o enfraquecimento da lógica de empresa e da opressão gerencial. Isso passa também por uma mudança da relação com os alunos. São eles “material humano” a ser consumido no processo de produção capitalista como combustível? Podemos modificar essa relação, formando trabalhadores mais resistentes e menos submissos a essa lógica? Queremos ser carcereiros nesse processo, sofrendo com isso todas as consequências que já conhecemos bem? Até onde esse agravamento das nossas condições de trabalho vai ser suportável?
Um caminho crucial para termos êxito em nossas lutas seria, primeiro, assumirmos nossa condição social e que a categoria docente já está proletarizada. A partir daí, enxergando essa condição social de sermos trabalhadores, podemos compreender a condição comum que temos socialmente com outros setores, como nossos alunos e suas comunidades, que também são trabalhadores (precarizados). Também podemos, assim, compreender que os ataques que estamos sofrendo por parte do Estado são os mesmos que toda a classe trabalhadora sofre internacionalmente sob as novas condições de crise capitalista, que desencadeia uma epidemia de cortes de gastos tanto nas empresas como no Estado (isto é a raiz do neoliberalismo). Compreendendo isso, podemos desenvolver uma solidariedade comum e lutas comuns com outros setores, bem como buscar estratégias cotidianas para transformar as formas de resistência individuais e passivas do professorado em formas de luta coletivas e ativas contra a lógica de empresa e a mercantilização da educação. Peça-chave nisto é a construção de relações de luta coletivistas e solidárias nos locais de trabalho, para o enfraquecimento da lógica de empresa e da opressão gerencial. Isso passa também por uma mudança da relação com os alunos. São eles “material humano” a ser consumido no processo de produção capitalista como combustível? Podemos modificar essa relação, formando trabalhadores mais resistentes e menos submissos a essa lógica? Queremos ser carcereiros nesse processo, sofrendo com isso todas as consequências que já conhecemos bem? Até onde esse agravamento das nossas condições de trabalho vai ser suportável?
Cabe ressaltar que a situação tensa dentro das escolas expressa as contradições sociais. É uma rebeldia nihilista e individualista por parte dos alunos, sem uma consciência ou um projeto, que se não se transformar em forma de reivindicação coletiva e organizada (como as lutas de estudantes do Chile), pode facilmente se degenerar em barbárie social (como já ocorre em muitas escolas). A saída do reforço da disciplina e da repressão só tende a tornar esse conflito mais violento. Deveríamos nos perguntar, se é possível criar relações mais horizontais e comunitárias entre professores, estudantes, funcionários e comunidade. Certamente, somente com essa recomposição da comunidade e da classe trabalhadora, seria possível construir um projeto de educação popular não-repressivo e que sirva como instrumento de resistência social, bem como uma consciência de classe, superando as representações espetaculosas sobre nossa condição. As escolas públicas, na medida em que formam amplos setores populares de precarizados e desempregados que circulam como trabalhadores nas mais diversas categorias profissionais, são pontos estratégicos para se desencadear um processo de resistência social. Mas como fazer isso, com a atual fragmentação dos docentes, bem como a conseqüente mentalidade conservadora dos docentes e um sindicalismo burocratizado, hierárquico, corporativista, preso aos egoísmos profissionais, e trampolim de carreiras eleitorais? É preciso ter um projeto de educação popular em nível de classe trabalhadora. E isso só é possível a partir do momento em que houver uma recomposição de classe, superando essas fragmentações ou divisões hierárquicas – entre professores estáveis, temporários, eventuais, funcionários, alunos, pais, comunidade escolar, e movimentos sociais, formando relações de solidariedade – algo que só pode ser obtido através de uma atuação mais cotidiana nas escolas e comunidades, e não através de ações barulhentas e bombásticas de grupos minoritários (que mais expressam a crise e ausência de um movimento real). Essa é a pré-condição para recuperar a luta pela educação.
Resumindo, nós, professores, estamos inseridos dentro do processo de produção capitalista – que não ocorre só dentro de empresas, mas em toda a sociedade como uma imensa “fábrica social” – e carregamos disso todas as consequências opressivas. É contra essa lógica que temos de lutar.
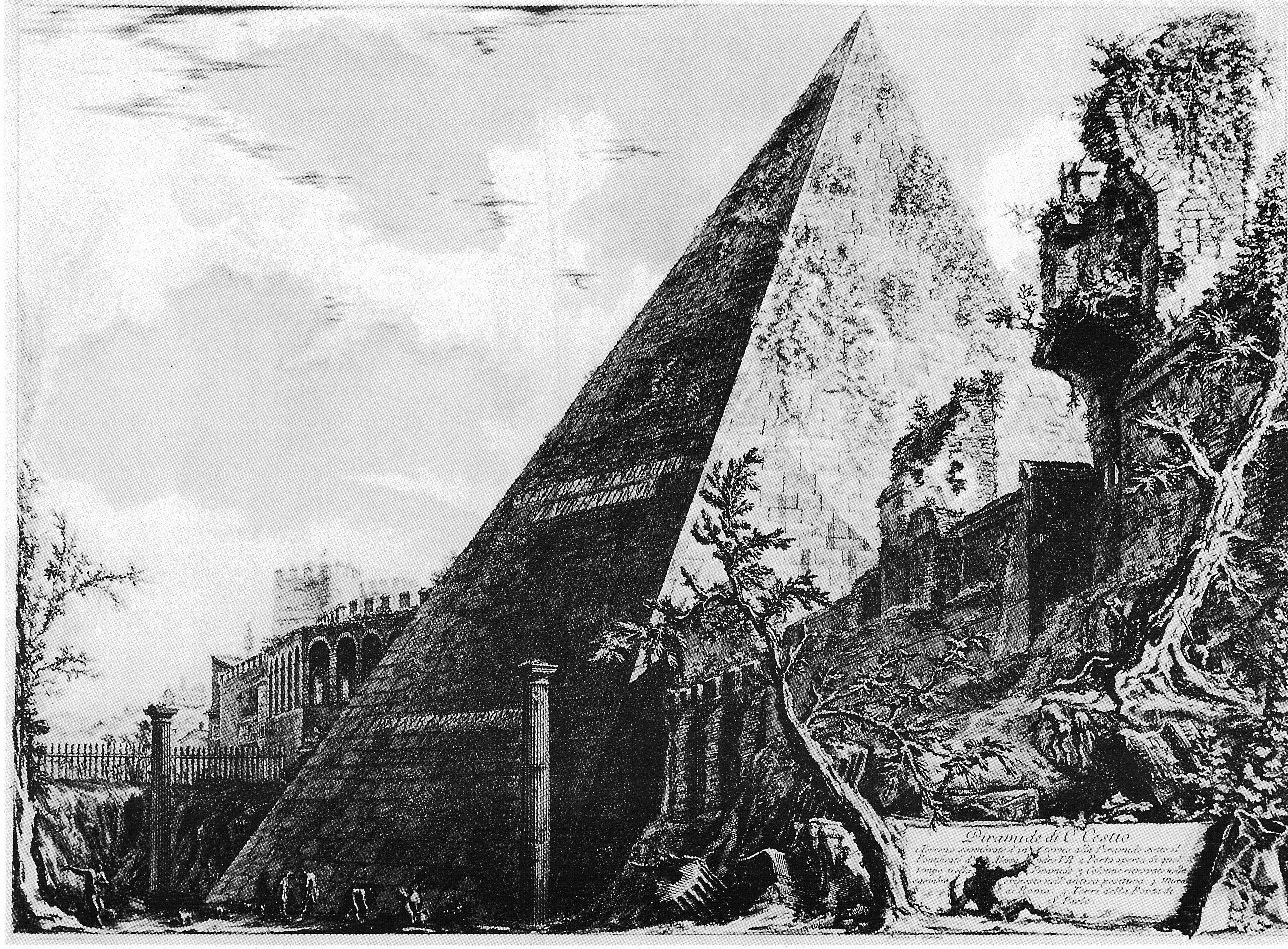


 As manifestações artísticas possuem o dom de expressar pela estética o que as teorias consomem grandes volumes para demonstrar. O filme The Wall (1982), produzido pelo Pink Floyd, retrata em uma parte a cena duma escola, como uma produção em série de alunos-mercadorias homogêneos, que enfim, desabam da esteira da linha de produção dentro duma imensa máquina de moer carne. Mas os alunos decidem no final se revoltar e incendeiam a escola. A arte muitas vezes antecipa fenômenos sociais reais.
As manifestações artísticas possuem o dom de expressar pela estética o que as teorias consomem grandes volumes para demonstrar. O filme The Wall (1982), produzido pelo Pink Floyd, retrata em uma parte a cena duma escola, como uma produção em série de alunos-mercadorias homogêneos, que enfim, desabam da esteira da linha de produção dentro duma imensa máquina de moer carne. Mas os alunos decidem no final se revoltar e incendeiam a escola. A arte muitas vezes antecipa fenômenos sociais reais. Se o valor é o tempo de trabalho, só o trabalho humano cria valor novo. Marx descobriu que todo lucro, renda e juros são originados do trabalho humano na produção de bens e serviços como mercadorias (como bens produzidos para a troca, e não para o uso). Como os trabalhadores são despossuídos de meios de produção (local de trabalho e instrumentos de trabalho são propriedade privada), são obrigados a vender sua força de trabalho como mercadoria para as empresas, em troca de salário para sobrevivência. Ocorre que, dessa forma, os trabalhadores não têm controle nenhum sobre os meios de produção nem sobre seu trabalho, e assim são coagidos a produzir um valor maior do que recebem como salário. Isso Marx chamou de mais-valia (mais-valor), que são as horas de trabalho não-pagas (exploradas) que o capitalista extrai do trabalhador. Daí surge o Capital, sua expansão, sua acumulação e suas crises. E a luta de classes, que é a luta dos trabalhadores pelo controle do tempo, das condições de trabalho e do próprio trabalho, para reduzir ou neutralizar a exploração. O capital é, assim, não uma quantidade de dinheiro, mas uma relação social entre homens, movida através da exploração e do conflito de classes.
Se o valor é o tempo de trabalho, só o trabalho humano cria valor novo. Marx descobriu que todo lucro, renda e juros são originados do trabalho humano na produção de bens e serviços como mercadorias (como bens produzidos para a troca, e não para o uso). Como os trabalhadores são despossuídos de meios de produção (local de trabalho e instrumentos de trabalho são propriedade privada), são obrigados a vender sua força de trabalho como mercadoria para as empresas, em troca de salário para sobrevivência. Ocorre que, dessa forma, os trabalhadores não têm controle nenhum sobre os meios de produção nem sobre seu trabalho, e assim são coagidos a produzir um valor maior do que recebem como salário. Isso Marx chamou de mais-valia (mais-valor), que são as horas de trabalho não-pagas (exploradas) que o capitalista extrai do trabalhador. Daí surge o Capital, sua expansão, sua acumulação e suas crises. E a luta de classes, que é a luta dos trabalhadores pelo controle do tempo, das condições de trabalho e do próprio trabalho, para reduzir ou neutralizar a exploração. O capital é, assim, não uma quantidade de dinheiro, mas uma relação social entre homens, movida através da exploração e do conflito de classes. O professor exerce esse trabalho, incutindo nos alunos as duas características básicas da força de trabalho: a disciplina e as qualificações. Como o processo capitalista de trabalho é um processo de exploração, ele exige uma dose igual de opressão sobre o proletário empregado como “mercadoria viva”. A escola entra como uma instituição disciplinar e repressiva na medida em que interioriza no aluno, desde criança, a obediência a hierarquias, horários, controles de presença, notas e o desempenho de tarefas pré-determinadas, quantificadas, etc. E depois, atua como qualificadora, na medida em que habilita o aluno, como futuro trabalhador, a exercer trabalho mais simples ou mais complexo (o aluno aprendendo mais ou menos habilidades). Sendo assim, o trabalhador mais qualificado exerce trabalho mais complexo e produz muito mais valor (mais-valia) do que o trabalhador menos qualificado. Dessa maneira, o sistema de ensino vira um espelho das exigências do mercado de trabalho. Como este possui, cada vez mais hoje, uma hierarquia onde uma minoria cada vez mais reduzida de trabalhadores exerce trabalho produtivo qualificado (e por conseqüência bem remunerado e com direitos), e uma maioria composta de trabalhadores precarizados, terceirizados e mal remunerados (de menor qualificação), ou mesmo desempregados, o sistema de ensino passa a refletir essa hierarquia. As universidades e as escolas técnicas formam o primeiro grupo, mais qualificado e restrito, e o ensino público de massas forma o segundo grupo, dos precarizados e do exército de reserva (segue daí que quanto mais se expande o número de pessoas com diploma, a oferta de força de trabalho cresce em relação à demanda e os salários se tornam mais baixos). A deterioração das condições de trabalho da maioria da população se reflete na deterioração das condições da escola pública. A tão alardeada “educação universal” ou o discurso da educação para todos, que os governos defendem, em nenhum momento diz que essa educação deva ser de nível igual para todos.
O professor exerce esse trabalho, incutindo nos alunos as duas características básicas da força de trabalho: a disciplina e as qualificações. Como o processo capitalista de trabalho é um processo de exploração, ele exige uma dose igual de opressão sobre o proletário empregado como “mercadoria viva”. A escola entra como uma instituição disciplinar e repressiva na medida em que interioriza no aluno, desde criança, a obediência a hierarquias, horários, controles de presença, notas e o desempenho de tarefas pré-determinadas, quantificadas, etc. E depois, atua como qualificadora, na medida em que habilita o aluno, como futuro trabalhador, a exercer trabalho mais simples ou mais complexo (o aluno aprendendo mais ou menos habilidades). Sendo assim, o trabalhador mais qualificado exerce trabalho mais complexo e produz muito mais valor (mais-valia) do que o trabalhador menos qualificado. Dessa maneira, o sistema de ensino vira um espelho das exigências do mercado de trabalho. Como este possui, cada vez mais hoje, uma hierarquia onde uma minoria cada vez mais reduzida de trabalhadores exerce trabalho produtivo qualificado (e por conseqüência bem remunerado e com direitos), e uma maioria composta de trabalhadores precarizados, terceirizados e mal remunerados (de menor qualificação), ou mesmo desempregados, o sistema de ensino passa a refletir essa hierarquia. As universidades e as escolas técnicas formam o primeiro grupo, mais qualificado e restrito, e o ensino público de massas forma o segundo grupo, dos precarizados e do exército de reserva (segue daí que quanto mais se expande o número de pessoas com diploma, a oferta de força de trabalho cresce em relação à demanda e os salários se tornam mais baixos). A deterioração das condições de trabalho da maioria da população se reflete na deterioração das condições da escola pública. A tão alardeada “educação universal” ou o discurso da educação para todos, que os governos defendem, em nenhum momento diz que essa educação deva ser de nível igual para todos. As escolas são cada vez mais invadidas pela lógica de produção de mercadorias, e nosso trabalho é organizado como na indústria. Cada vez mais as tarefas são padronizadas rigidamente e nosso trabalho é medido e avaliado quantitativamente. A escola está sendo “taylorizada” (taylorismo é o sistema tradicional de gestão de indústria, extremamente opressivo, do qual o “toyotismo” é só um derivado), e é invadida por um surto quantitativista, onde a última panacéia é a “avaliação de desempenho” e a “meritocracia” (antes predominava uma organização burocrática de cunho fayloista [baseado na administração segundo Henri Fayol], mas o aspecto quantitativo do taylorismo tem sido reforçado). Os diretores são transformados em gestores e tem um poder repressivo de controle reforçado. Cada vez mais somos realmente operários. Nossas tarefas são padronizadas como numa indústria e somos despojados de qualquer controle sobre nossas condições de trabalho (a padronização de currículos e materiais nada mais é do que isso, o sistema Taylor aplicado na educação). O aumento da pressão por disciplina e resultados dentro duma escola significa o mesmo que aumentar a velocidade de uma linha de montagem. A opressão das condições de trabalho cresce tanto que os professores desencadeiam uma série de mecanismos defensivos para não serem destruídos fisicamente – faltas (absenteísmo), licenças médicas, trabalhar mais devagar, “macetes”, etc. Tal processo é idêntico à resistência generalizada que ocorre dentro de fábricas, onde os operários espontaneamente derrubam a intensidade e velocidade da produção como forma de resistência à exploração e intensificação do trabalho. Mas este não é um processo consciente (por enquanto), são formas de resistência individuais e passivas (que passaram a predominar como reação defensiva após o desmantelamento do movimento sindical docente no Estado de São Paulo, na greve de 2000; e a atual revolução tecnocrática aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é também uma resposta a essa resistência passiva, uma tentativa de reestruturação da educação, que inclusive funciona como laboratório do Banco Mundial, para sua implementação mais ampla).
As escolas são cada vez mais invadidas pela lógica de produção de mercadorias, e nosso trabalho é organizado como na indústria. Cada vez mais as tarefas são padronizadas rigidamente e nosso trabalho é medido e avaliado quantitativamente. A escola está sendo “taylorizada” (taylorismo é o sistema tradicional de gestão de indústria, extremamente opressivo, do qual o “toyotismo” é só um derivado), e é invadida por um surto quantitativista, onde a última panacéia é a “avaliação de desempenho” e a “meritocracia” (antes predominava uma organização burocrática de cunho fayloista [baseado na administração segundo Henri Fayol], mas o aspecto quantitativo do taylorismo tem sido reforçado). Os diretores são transformados em gestores e tem um poder repressivo de controle reforçado. Cada vez mais somos realmente operários. Nossas tarefas são padronizadas como numa indústria e somos despojados de qualquer controle sobre nossas condições de trabalho (a padronização de currículos e materiais nada mais é do que isso, o sistema Taylor aplicado na educação). O aumento da pressão por disciplina e resultados dentro duma escola significa o mesmo que aumentar a velocidade de uma linha de montagem. A opressão das condições de trabalho cresce tanto que os professores desencadeiam uma série de mecanismos defensivos para não serem destruídos fisicamente – faltas (absenteísmo), licenças médicas, trabalhar mais devagar, “macetes”, etc. Tal processo é idêntico à resistência generalizada que ocorre dentro de fábricas, onde os operários espontaneamente derrubam a intensidade e velocidade da produção como forma de resistência à exploração e intensificação do trabalho. Mas este não é um processo consciente (por enquanto), são formas de resistência individuais e passivas (que passaram a predominar como reação defensiva após o desmantelamento do movimento sindical docente no Estado de São Paulo, na greve de 2000; e a atual revolução tecnocrática aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é também uma resposta a essa resistência passiva, uma tentativa de reestruturação da educação, que inclusive funciona como laboratório do Banco Mundial, para sua implementação mais ampla). Na medida em que trabalhamos com um setor da população (alunos e suas famílias) cada vez mais sujeito ao trabalho precarizado ou ao desemprego, a escola pública assume cada vez mais uma função meramente disciplinar e repressiva (função de controle social sobre os “não-rentáveis”). Os empregos que recebe a maioria de nossos alunos são empregos de baixa qualificação – onde se exige um perfil de trabalhador muitas vezes analfabeto funcional (por exemplo, supermercados, cadeias de lanchonetes). Não é de surpreender o crescimento do analfabetismo funcional, nem tampouco é nossa culpa. Dentro dessas condições opressivas, de escola fabril-carcerária, os alunos reagem com um surto espontâneo de indisciplina – eles percebem, inconscientemente, o não-futuro que o mercado lhes reserva, e passam a se “auto-sabotar” enquanto mercadorias em produção, se auto-imolando. Atacam as estruturas disciplinares e repressivas da escola, e percebem que o mercado de trabalho não vai lhes dar a inserção social que a escola lhes promete ideologicamente (existem outros fatores que causam a indisciplina, como a desintegração familiar, e o deslocamento de atividades formativas para o lazer eletrônico, mas as relações de trabalho são o fator de peso). Somos cada vez mais recrutados para gerir a falência do sistema de ensino gerada pela falência do mercado de trabalho.
Na medida em que trabalhamos com um setor da população (alunos e suas famílias) cada vez mais sujeito ao trabalho precarizado ou ao desemprego, a escola pública assume cada vez mais uma função meramente disciplinar e repressiva (função de controle social sobre os “não-rentáveis”). Os empregos que recebe a maioria de nossos alunos são empregos de baixa qualificação – onde se exige um perfil de trabalhador muitas vezes analfabeto funcional (por exemplo, supermercados, cadeias de lanchonetes). Não é de surpreender o crescimento do analfabetismo funcional, nem tampouco é nossa culpa. Dentro dessas condições opressivas, de escola fabril-carcerária, os alunos reagem com um surto espontâneo de indisciplina – eles percebem, inconscientemente, o não-futuro que o mercado lhes reserva, e passam a se “auto-sabotar” enquanto mercadorias em produção, se auto-imolando. Atacam as estruturas disciplinares e repressivas da escola, e percebem que o mercado de trabalho não vai lhes dar a inserção social que a escola lhes promete ideologicamente (existem outros fatores que causam a indisciplina, como a desintegração familiar, e o deslocamento de atividades formativas para o lazer eletrônico, mas as relações de trabalho são o fator de peso). Somos cada vez mais recrutados para gerir a falência do sistema de ensino gerada pela falência do mercado de trabalho. Torna-se necessário pensar estrategicamente nossa posição no processo, para que possamos combinar nossas lutas com lutas sociais de outros setores – por exemplo, ganhando a solidariedade dos alunos e da comunidade escolar, rompendo o corporativismo – só assim nossas reivindicações ganharão algum apoio na sociedade. Entretanto, cabe aqui relatar um caso. Quando o movimento dos trabalhadores sem-teto fez uma das maiores ocupações de sua história (a Ocupação João Cândido), a escola vizinha do terreno ocupado foi fechada por alguns dias por “medo dos sem-teto”. Estes, na ocupação, montaram várias cozinhas comunitárias e organizações comunitárias e solidárias de apoio mútuo. O engraçado é que ninguém pensava em fechar a escola antes da ocupação, quando o terreno era controlado por traficantes e assaltantes. Outra vez, em manifestação de professores (na luta contra o Fundo de Pensão SP-PREV, em 2007), os sem-teto vieram marchar em apoio aos professores, mas muitos professores se afastaram da manifestação horrorizados com isso, demonstrando um sentimento de nojo ou ranço classista. Talvez porque se enxerguem ainda como “classe média”, e ainda não perceberam que ali, no movimento popular, estão justamente nossos alunos e suas famílias, futuros trabalhadores que nós produzimos cotidianamente, cada vez mais precarizados e desempregados pela chamada “lei geral da acumulação capitalista” (Marx). É essa a grande contradição de boa parte dos docentes das escola públicas de São Paulo: lecionam para os pobres e em condições proletarizadas, mas possuem uma mentalidade e ideologia anti-pobre. É comum encontrar muitos que defendem a implementação de grades, câmeras e a repressão aos estudantes nas escolas; também muitos defendem idéias conservadoras e até fascistóides, como o endurecimento do Estado sobre os pobres nas favelas, a repressão aos movimentos sociais, detestam o MST, defendem pena de morte, redução da idade penal, e não é raro encontrar alguns que ainda defendam a ditadura militar ou sejam preconceituosos com alunos homossexuais. No final, esta mentalidade é uma construção midiática e de uma situação social de consumo artificial e de ideologia da ascensão social; revela um setor social que está se proletarizando, mas ainda não quer assumir, então adota os valores dominantes e um discurso ressentido como reação. Mas justamente a representação espetaculosa como “classe média” se constrói encima das contradições reais reprimidas e como negação ilusória da miséria da vida cotidiana. Os próprios professores efetivos olham os temporários de cima para baixo e muitas vezes não se misturam (e o mesmo aos “eventuais”). A mesma clivagem ocorre, de forma mais grave, em relação a funcionários de escola (que possuem na maioria das escolas sala separada da dos professores, ganham salários mais baixos e são submetidos a contratos precários), e ainda mais forte em relação a alunos e comunidade escolar. Mesmo quando em uma ou outra escola, a comunidade consegue se mobilizar e retirar as grades, estas persistem no cérebro dos docentes e gestores escolares. Parece reinar nas escolas a mesma mentalidade conservadora das senhoras de colar de bolas e cabelos de panetone que povoam os gabinetes dos departamentos de educação e diretorias de ensino.
Torna-se necessário pensar estrategicamente nossa posição no processo, para que possamos combinar nossas lutas com lutas sociais de outros setores – por exemplo, ganhando a solidariedade dos alunos e da comunidade escolar, rompendo o corporativismo – só assim nossas reivindicações ganharão algum apoio na sociedade. Entretanto, cabe aqui relatar um caso. Quando o movimento dos trabalhadores sem-teto fez uma das maiores ocupações de sua história (a Ocupação João Cândido), a escola vizinha do terreno ocupado foi fechada por alguns dias por “medo dos sem-teto”. Estes, na ocupação, montaram várias cozinhas comunitárias e organizações comunitárias e solidárias de apoio mútuo. O engraçado é que ninguém pensava em fechar a escola antes da ocupação, quando o terreno era controlado por traficantes e assaltantes. Outra vez, em manifestação de professores (na luta contra o Fundo de Pensão SP-PREV, em 2007), os sem-teto vieram marchar em apoio aos professores, mas muitos professores se afastaram da manifestação horrorizados com isso, demonstrando um sentimento de nojo ou ranço classista. Talvez porque se enxerguem ainda como “classe média”, e ainda não perceberam que ali, no movimento popular, estão justamente nossos alunos e suas famílias, futuros trabalhadores que nós produzimos cotidianamente, cada vez mais precarizados e desempregados pela chamada “lei geral da acumulação capitalista” (Marx). É essa a grande contradição de boa parte dos docentes das escola públicas de São Paulo: lecionam para os pobres e em condições proletarizadas, mas possuem uma mentalidade e ideologia anti-pobre. É comum encontrar muitos que defendem a implementação de grades, câmeras e a repressão aos estudantes nas escolas; também muitos defendem idéias conservadoras e até fascistóides, como o endurecimento do Estado sobre os pobres nas favelas, a repressão aos movimentos sociais, detestam o MST, defendem pena de morte, redução da idade penal, e não é raro encontrar alguns que ainda defendam a ditadura militar ou sejam preconceituosos com alunos homossexuais. No final, esta mentalidade é uma construção midiática e de uma situação social de consumo artificial e de ideologia da ascensão social; revela um setor social que está se proletarizando, mas ainda não quer assumir, então adota os valores dominantes e um discurso ressentido como reação. Mas justamente a representação espetaculosa como “classe média” se constrói encima das contradições reais reprimidas e como negação ilusória da miséria da vida cotidiana. Os próprios professores efetivos olham os temporários de cima para baixo e muitas vezes não se misturam (e o mesmo aos “eventuais”). A mesma clivagem ocorre, de forma mais grave, em relação a funcionários de escola (que possuem na maioria das escolas sala separada da dos professores, ganham salários mais baixos e são submetidos a contratos precários), e ainda mais forte em relação a alunos e comunidade escolar. Mesmo quando em uma ou outra escola, a comunidade consegue se mobilizar e retirar as grades, estas persistem no cérebro dos docentes e gestores escolares. Parece reinar nas escolas a mesma mentalidade conservadora das senhoras de colar de bolas e cabelos de panetone que povoam os gabinetes dos departamentos de educação e diretorias de ensino. Um caminho crucial para termos êxito em nossas lutas seria, primeiro, assumirmos nossa condição social e que a categoria docente já está proletarizada. A partir daí, enxergando essa condição social de sermos trabalhadores, podemos compreender a condição comum que temos socialmente com outros setores, como nossos alunos e suas comunidades, que também são trabalhadores (precarizados). Também podemos, assim, compreender que os ataques que estamos sofrendo por parte do Estado são os mesmos que toda a classe trabalhadora sofre internacionalmente sob as novas condições de crise capitalista, que desencadeia uma epidemia de cortes de gastos tanto nas empresas como no Estado (isto é a raiz do neoliberalismo). Compreendendo isso, podemos desenvolver uma solidariedade comum e lutas comuns com outros setores, bem como buscar estratégias cotidianas para transformar as formas de resistência individuais e passivas do professorado em formas de luta coletivas e ativas contra a lógica de empresa e a mercantilização da educação. Peça-chave nisto é a construção de relações de luta coletivistas e solidárias nos locais de trabalho, para o enfraquecimento da lógica de empresa e da opressão gerencial. Isso passa também por uma mudança da relação com os alunos. São eles “material humano” a ser consumido no processo de produção capitalista como combustível? Podemos modificar essa relação, formando trabalhadores mais resistentes e menos submissos a essa lógica? Queremos ser carcereiros nesse processo, sofrendo com isso todas as consequências que já conhecemos bem? Até onde esse agravamento das nossas condições de trabalho vai ser suportável?
Um caminho crucial para termos êxito em nossas lutas seria, primeiro, assumirmos nossa condição social e que a categoria docente já está proletarizada. A partir daí, enxergando essa condição social de sermos trabalhadores, podemos compreender a condição comum que temos socialmente com outros setores, como nossos alunos e suas comunidades, que também são trabalhadores (precarizados). Também podemos, assim, compreender que os ataques que estamos sofrendo por parte do Estado são os mesmos que toda a classe trabalhadora sofre internacionalmente sob as novas condições de crise capitalista, que desencadeia uma epidemia de cortes de gastos tanto nas empresas como no Estado (isto é a raiz do neoliberalismo). Compreendendo isso, podemos desenvolver uma solidariedade comum e lutas comuns com outros setores, bem como buscar estratégias cotidianas para transformar as formas de resistência individuais e passivas do professorado em formas de luta coletivas e ativas contra a lógica de empresa e a mercantilização da educação. Peça-chave nisto é a construção de relações de luta coletivistas e solidárias nos locais de trabalho, para o enfraquecimento da lógica de empresa e da opressão gerencial. Isso passa também por uma mudança da relação com os alunos. São eles “material humano” a ser consumido no processo de produção capitalista como combustível? Podemos modificar essa relação, formando trabalhadores mais resistentes e menos submissos a essa lógica? Queremos ser carcereiros nesse processo, sofrendo com isso todas as consequências que já conhecemos bem? Até onde esse agravamento das nossas condições de trabalho vai ser suportável?


